O SEGUNDO NADA: A Morte segundo o Epicurismo – Reflexões sobre “O Mel e o Absinto”, de André Comte-Sponville
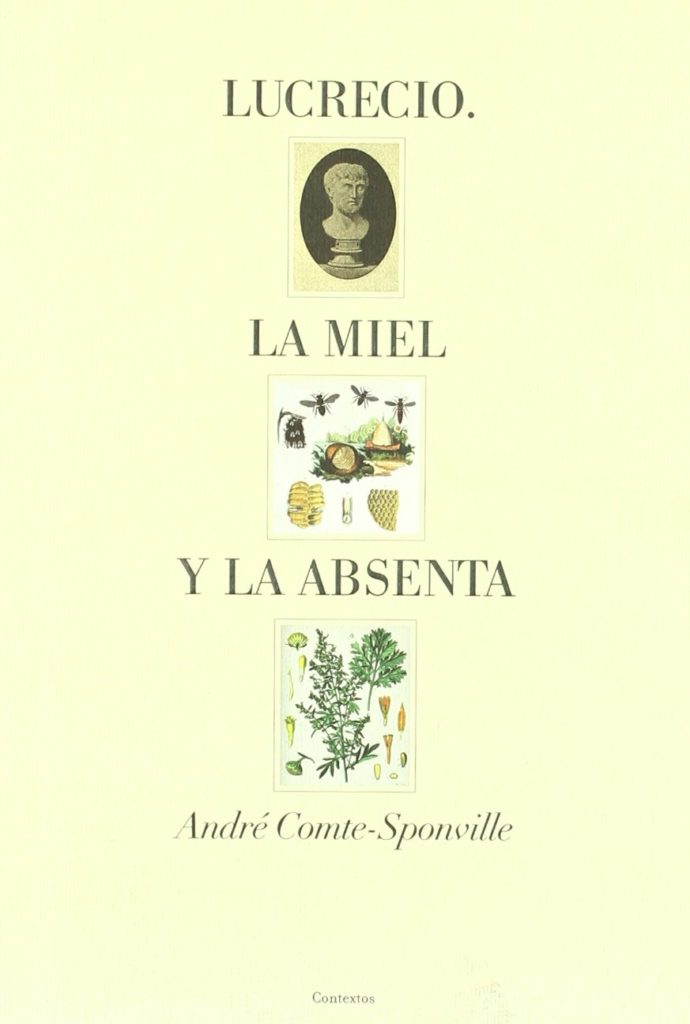
“Olhe para trás: nada foi para nós
Todo o tempo infinito antes da gente nascer!
Isto é como um espelho vazio onde vêm se refletir
Aquilo que será o tempo que se seguirá à nossa morte.
O que perceberíamos nisto de horrível ou de triste?
Não é isto um repouso mais doce que o sono?”
(LUCRÉCIO, DA NATUREZA: III, 972-977)
Ela, que o poeta Bandeira batiza tão sagazmente “a indesejada das gentes”, não é somente um evento inelutável que encerrará necessariamente a vida de cada um de nós – e que encerrou a de todos que já viveram e ainda vão nascer. Ela, mais do que um evento objetivo que vai se dar sem escapatória, é algo que assombra as consciências dos viventes enquanto ainda vivem, quiçá do berço ao túmulo – ao menos do raiar da consciência até seu mergulho na dissolução. A morte é nosso medo antes de ser nosso destino. A intranquilidade que o futuro morrer nos causa é o que mais obsta nosso caminho para aquela serenidade feliz que Epicuro chamava de ataraxia e que os convivas do Jardim buscavam concretizar.
A morte como evento objetivo “reflete-se” no espelho distorcente da subjetividade humana como fantasma, como temor, como expectativa, como espera, como pavor, como pesadelo, às vezes até como desejo, travestida por uns com a esperança de redenção, concebida por outros como sono eterno… Já que a morte é o “continente do qual nenhum viajante jamais retorna”, para relembrar Hamlet, a imaginação humana multiplica as possibilidades e as crenças. São várias as “mortes” experimentadas pelos viventes, e várias as crenças com as quais revestimos o fato sinistro de nossa finitude, a verdade de estarmos prometidos à podridão.
Ernest Becker, na obra vencedora do Pulitzer The Denial of Death, criou impressionante painel da psique humana, inspirando-se em Otto Rank, Kierkegaard, Norman O. Brown e outros autores. A psiquê é pintada como apavorada diante do espectro do fim, infindável em suas invencionices culturais para driblar a mortalidade, recorrentemente recorrendo a formas de recusar seu reconhecimento, para “pensar em outra coisa…”, para adorar um deus redentor ou a idéia consoladora de uma “alma eterna”, independente do corpo e intocável pelas corrupções e decomposições da carne. Negamos a morte até que ela nos negue. Mas vivemos mal quando não queremos reconhecer a vida por aquilo que ela é – algo que acaba.
Os corpos que sonham possuírem “almas imortais” e que se imaginam, num dia futuro, alçando-se à doce companhia dos anjos para uma eternidade de bem-aventurança, talvez se iludam de propósito em busca do colo reconfortante do consolo. São as fantasias dos mortais: não podendo não morrer, inventam histórias e lendas sobre a morte, fabricam mundos do além-túmulo onde fantasiam que um dia habitarão, e estas histórias são tão agradáveis aos nossos desejos mais recônditos e poderosos que é de se suspeitar, como tão bem argumenta Freud n’O Futuro de Uma Ilusão, que tenham sido inventadas para dizer aos homens – não a verdade, este absinto intolerável que não se pode engolir! – mas uma edulcorada fabricação, com gosto de mel, que contenha o que mais queremos ouvir.
Mais de 2.000 anos atrás, na Roma imperial do século I antes de Cristo, um poeta-pensador chamado Lucrécio, com rara maestria no trato com palavras e conceitos, consagrou sua vida ao estudo e à disseminação da sabedoria epicurista. Escreveu palavras das mais impressionantes que conheço sobre ela, a Ceifadora Insaciável de Vidas cujo nome muitos de nós preferimos não mencionar, fingir que não é, para que não despertem nos nossos recônditos as hordas aflitivas da angústia…
A vida mortal parece dotada de um fogo interior que as zilhões de mortes individuais não lograram apagar, mesmo depois de tantos milhões de anos de cotidiana labuta infindável da morte. A vida impulsiona adiante a tocha, em meio aos incêndios e torrentes cósmicas deste Tempo que, como outro poeta dizia de seu próprio coração, “não consegue ficar sentado”. Não há pirralho mais irrequieto que o Tempo, nem glutão mais insaciável que este Chronos, que por mais que devore seus filhos nunca está com a pança satisfeita. Mistérios do viver…
O livro O Mel e o Absinto, ainda sem tradução para o português, é uma obra-prima de André Comte-Sponville, onde o filósofo francês se filia a esta honorável tradição epicúrea. Há a lenda de que Lucrécio teria se suicidado. Não é fato biográfico reconhecido e estabelecido – pelo contrário: parece tema de contenda e especulação da parte dos eruditos, uns dizendo que Lucrécio era um “caso psiquiátrico”, um psicótico ou maníaco-depressivo, como faz Giusani em seus Studi Lucreziani (Turin, 1896), outros defendendo Lucrécio da alcunha de “suicida” a ele imposta por alguns: é o caso de Bergson, que sugere ser o mito do suicídio de Lucrécio algo “ar de romance” – isto é, de ficção, construção da função fabulatriz… – já que “naqueles tempos anciãos a imaginação popular sentia prazer em assim punir os ateus” (28).
Não deixa de ser interessante, porém, este “enigma” que nos legou o poeta-filósofo Lucrécio ao não nos disponibilizar nada sobre sua morte pessoal, própria, particular. Sabemos muito mais detalhes sobre as mortes de um Sócrates ou de um Giordano Bruno: a de Lucrécio, envolta em sombras, desperta o senso do enigma. São Jerônimo (347-419) garante que Lucrécio “matou-se com as próprias mãos” – mas a opinião de um cristão não é tão crível assim, já que a credulidade nos dogmas da Igreja, inclusive aquele da “impiedade” dos suicidas, talvez motive muito “homem-de-fé” a lançar sobre o materialista ateu Lucrécio este “pecado” do suicídio. Seria um modo indireto de dizer: “veja o que acontece com os ateus, com os céticos, com os que duvidam: eles acabam tão tristes que se matam!”
A religião: alienar-se da busca pela verdade no colo confortável de uma dogmática consoladora, um corpo de respostas fechadas; um reino onde reinam as proibições, os tabus, os jejuns e os flagelos. Alvarez têm um estudo brilhante – O Deus Selvagem – sobre o suicídio, e nele aprendemos um bocado sobre o “modo cristão” de lidar com os suicidas: remeto quem tiver curiosidade a ele.
Aqui, cabe destacar a diferença extrema que existe entre a “condenação” cristã do suicídio, compreendido na tradição judaica-cristã como um pecado contra o Criador, como uma “recusa da dádiva divina da vida”, e a concepção epicurista-lucreciana, assim exposta por André Comte-Sponville: “…la mort voluntaire, pour un épicurien, n’avait rien, philosophiquemente, de choquant, ni même de condamnable. Nous sommes nés par hasard, sans avoir rien demandé; il faudra mourir de toute façon, et aucun Dieu, jamais, ne nous demandera de comptes” (p. 34)
O materialismo ateu lucreciano, que tem como um de seus objetivos supremos dissipar os terrores e tremores que a superstição atiça nos homens, convida-nos a perceber a morte não como uma porta que se abre, mas sim como uma porta que se fecha. Com ela, começa um segundo nada, que vem se somar àquele primeiro nada que precede o nascimento. Espremidinha, como um fio d’água, está a vida-rio, margeada por dois nadas. Surpreende alguém que o poeta Lucrécio tenha se feito poeta? Como falar das angústias e dos frissons decorrentes deste pensamento abissal dos nadas apenas na língua comportada e asséptica dos filósofos?
Donde uma inovação “literária” que coloca Lucrécio como um dos pioneiros – e um dos mais geniais praticadores – de um gênero de escrita no qual “o poeta e o filósofo são indissociáveis” (COMTE-SPONVILLE: p. 40) e que tem como ilustres escribas-exemplares Nietzsche, Émil Cioran, Paul Válery…
Poeta da melancolia que Schopenhauer venerava, Lucrécio é sobretudo alguém que canta em meio aos tormentos. Não é um sábio, perfeitamente sereno, inalcançável pelas tempestades da paixão, mas uma carcaça terrestre de carne-e-ossos que treme e que teme, que sofre e que sabe da morte, pensando e criando em meio à esta tormentosa certeza.
Esta música de Lucrécio, que Comte-Sponville compara a um blues ou um fado, que está mais pra Schubert que pra Mozart, seria “a poesia verdadeira, aquela que fala sobre o penar e a infelicidade dos homens” (p. 45). O poeta não é aquele que edulcora, que torna tudo doce, que mente a vida pra melhor. Em outros termos: se tudo o que um poeta tem a nos oferecer é mel, então podemos ter certeza de que não é um grande poeta. Falta o absinto. O gosto amargo da verdade, em especial para os paladares mais viciados em açúquices, passa por ser desagradável. Muita gente faz cara feia, feito da Mafalda diante da sopa, quando a colher de absinto da verdade demanda ser reconhecida.
A verdade sobre a religião, por exemplo: eis algo de que os religiosos, em especial, fogem como diz-se que o Capeta faz ao fugir da cruz. A verdade histórica sobre as consequências concretas das crenças religiosas dos homens, do entrechoque entre as incompatíveis fés rivais, do guerrear infindável das seitas e do clash sem fim de dogmas, é algo que raríssimos se propõe estudar e conhecer.
O que Lucrécio pretende fazer, ainda antes da Era Cristã, é libertar a humanidade do jugo da superstição – e nisto é justificável que seja “consagrado”, como faz André Comte-Sponville, como um longínquo precursor do Iluminismo do Séc. XVIII. Uma destacada ênfase, logo no princípio do Da Natureza, recai sobre a figura mítica de Ifigênia, a filha que é assassinada pelo próprio pai, Agamenom.
Trata-se de um mito pré-cristão que tem suas similaridades com o mito cristão de Abrãao e Isaac, com a diferença de que “nenhum Deus, em Ésquilo ou Lucrécio, aparece para substituir por um animal o corpo trêmulo de Ifigênia…” (p. 52). Abraão por pouco não degolou o próprio filhote Isaac, supostamente seguindo ordens divinas em que se crê pois são absurdas. Agamemnon vai mais longe: ele é, aos olhos de Lucrécio, um exemplo dos modos como “a superstição se torna criminosa” (P. 53, Livro I).
Os guerreiros gregos, querendo embarcar para Tróia, onde morreriam aos montes e onde cometeriam as atrocidades mais cruéis, encontram mau tempo como obstáculo à sua expedição guerreira. A tempestade que os impede de navegar, belicosos, rumo à guerra, é interpretada pelos padres como “cólera dos deuses”.
Eis aí um exemplo nítido de como a “vontade de Deus”, como dizia Spinoza, é o “asilo da ignorância”: aqueles fenômenos naturais cujas causas os homens desconhecem, cujo sentido não conseguem compreender, em sua ignorância eles imputam ou atribuem à esta fabulosa “vontade de Deus”. Raciocínio que, apesar de tão atabalhoado, é comuníssimo numa psiquê que está envolta nas brumas supersticiosas: “Se a chuva está atrapalhando a viagem, deve ser pois os deuses estão furiosos conosco…” Para acalmar a cólera dos olímpicos, Agamemnon faz o sangue de Ifigênia “atrozmente correr” (p. 53)
A superstição muitas vezes é assassina, sobretudo quando manejada por um patriarcado crédulo capaz de considerar ninfetas como sacrificáveis: a produção da morte do outro é, no caso, uma função colateral da neurose de lidar com a morte própria através de uma estrutura social, a religião instituída e sua organização de dogmas enganadores, que ilude para consolar.

Como Comte-Sponville mostrará com brilhantismo, Lucrécio, na senda de Epicuro, ensina a não temer a morte e a vê-la como similar ao nada que antecedeu nosso nascer. Eu e minha morte nunca vamos de fato coincidir: quando ela chegar eu não estarei mais aqui para “vivê-la”, só poderei ter a vivência de uma agonia ainda em vida, mas a morte, ela mesma, é invivível.
Com a doutrina epicurista de que todo bem e todo mal provêm da sensação, e a morte nos priva desta, temos de fato uma nadificação da sensorialidade, da capacidade de sentir algo, com o óbito que nos apaga a consciência e entrega ao seio da Natura Creatrix os átomos que nos compunham para que possam compor outros agregados.
Os indivíduos são mortais, mas a matéria que provisoriamente os compõem estará à disposição para seguir sua dança. O absinto desta verdade é-nos entregue por Lucrécio numa taça salpicada de mel pelas bordas, e o que resulta é esta obra-prima sui generis De Rerum Natura, onde a melancolia e a serenidade, a lucidez diante do atroz e a capacidade de jubilosa sabedoria, dão-se às mãos numa magnum opus da filosofia e da literatura.
Lucrécio, sábio epicurista, ensina um caminho possível e plausível para a felicidade terrena, sem porvir no além-túmulo, só vivenciável por aqueles capazes de adentrar o Jardim da filosofia materialista onde cessam e colapsam os terrores e medos que nos desgraçam, sobretudo aqueles que derivam das superstições que nutrimos sobre a morte e os deuses. Superar a ilusão de que os deuses se importam conosco e estão permanentemente nos vigiando e ouvindo nossas preces, assim como superar a ilusão de que a morte é um portal que conduz ao Hades (na tradição grega) ou ao paraíso, inferno ou purgatório (na tradição cristã) é o que pode conduzir à sábia ataraxia.
O mel e o absinto: morrer, como verbo, não é nenhum doce mel, mas só se faz em vida – é o que chamamos de agonia. Mas estar morto, ter morrido, consumar o arco do viver entre berço e túmulo, conduz a um estado sem sensibilidade, portanto sem dor nem prazer, o que abole o próprio juízo sobre bem e mal por parte do sujeito. Nenhum morto julga que está num mau estado, ainda que alguém em curso de morrer possa, em virtude do sofrimento, julgar extremamente ruim sua condição de vivo a agonizar. Para o sujeito humano, quando a morte se consuma, a consciência se apaga e cai-se num nada similar àquele antes do nascimento.
Para a Natureza, porém, a morte nada tem de estática: os átomos que compõe o corpo abandonado pela vida serão utilizados em novos agregados, em outros conjuntos, como tem sido pelos éons da história natural. Cada um de nós é finito e mortal; imortais são apenas as partículas elementares da indestrutível Matéria. A realidade é uma dança infinda, e cada um de nós um dançarino que tem seus dias contados. Lucrécio nos convida a abandonar o banquete da vida como um conviva saciado que, após viver em busca da sabedoria, na expressão da sabedoria, e rodeado de amigos, descansa no nem doce nem amargo nada da consciência – esta, antes de apagar-se, sabe: a Dança da Realidade continua, comigo ou sem mim.
Quando vier a primavera
Alberto Caeiro
Quando vier a Primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma
Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse.
Por isso, se morrer agora, morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências.
O que for, quando for, é que será o que é.
Publicado em: 08/04/22
De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes




